
Amanhã, quando o calendário marcar o quarto ano desde que Haroldo Lima se despediu de nós, o silêncio da sua ausência ecoará mais alto do que nunca. Não é apenas uma data, mas um portal que, a cada giro do tempo, me puxa para um mar de lembranças tingidas de saudade. Como em todos os anos, ergo minha voz em homenagem, mas desta vez, algo em mim se rebelou contra o comum, contra o morno relato de datas e feitos. Meu peito exigiu mais: palavras que pulsassem com a essência da vida, que desvendassem a verdade crua e bela do ser humano que Haroldo, em sua força quieta, encarnava. E então, no meio dessa busca inquieta, um nome se acendeu como chama em meio à penumbra: Tamar. Quem melhor do que ela, com seus olhos que guardam histórias e seu coração que sentiu os mesmos ventos que moldaram Haroldo, para me guiar? Assim, neste ano, minha homenagem não será apenas minha — ela carrega a alma de Tamar, um fio delicado que costura memórias e silêncios, trazendo Haroldo de volta, não como sombra, mas como luz que ainda aquece e ilumina.

Tamar Castro trabalhou muitos anos ao lado de Haroldo. Quase uma adolescente quando começou em seu gabinete, tornou-se a chefe mais jovem de gabinete de um parlamentar. Além disso, era comadre de Haroldo, que batizara um de seus filhos. Quando conversei com Castro sobre o projeto, ela me disse que não tinha muito a dizer, mas que fora profundamente tocada pelo filme “Ainda Estamos Aqui”. O filme despertou nela uma narrativa que havia sido contada pelo própio Haroldo e por Solange, uma história que retrata o homem, o pai, o ser humano que muitas vezes fica ofuscado pelo militante e político.
A narrativa de Tamar é humanista, buscando capturar a essência de Haroldo além de suas conquistas públicas. É um relato que nos lembra que, por trás de cada grande figura, há uma pessoa com suas próprias histórias, amores e desafios. E é essa humanidade que desejo homenagear hoje, quatro anos após a partida de Haroldo Lima.
Num país sufocado pelo silêncio imposto, onde cada palavra era medida pelo seu potencial de perigo, Haroldo Lima se movia como um fantasma entre dois mundos. O mundo visível, aquele que tocava as pontas dos dedos da normalidade, e o subterrâneo, onde a resistência respirava em suspiros contidos.
A história que vou narrar parece brotar das páginas de um romance de resistência, mas cada palavra é um fragmento doloroso da nossa memória coletiva. É uma história de coincidências que salvam vidas, de coragem que desafia o medo, de amor que sobrevive à opressão.
 A madrugada de 16 de dezembro de 1976 amanheceu pesada na Rua Pio XI, número 767, no bairro da Lapa, em São Paulo. A casa, aparentemente comum, escondia um núcleo de resistência ao regime militar: o Comitê Central do Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Naquele dia, a história seria marcada por sangue e traição, em um episódio que ficaria conhecido como o Massacre da Lapa.
A madrugada de 16 de dezembro de 1976 amanheceu pesada na Rua Pio XI, número 767, no bairro da Lapa, em São Paulo. A casa, aparentemente comum, escondia um núcleo de resistência ao regime militar: o Comitê Central do Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Naquele dia, a história seria marcada por sangue e traição, em um episódio que ficaria conhecido como o Massacre da Lapa.
Na reunião clandestina, o ar estava carregado de tensão. Os olhares trocados entre companheiros de luta eram códigos que só eles entendiam. Não sabiam que entre eles estava Manoel Jover Telles,, um nome que mais tarde se tornaria sinônimo de traição. Ele havia entregue todos à repressão, com uma senha macabra: a invasão só aconteceria após sua saída.
Por uma coincidência que parece obra do destino, naquele dia Haroldo saiu junto com Jover Telles. De olhos vendados, em grupos de três, conforme exigiam as medidas de segurança. No mesmo carro seguiram Elza Monnerat, Aldo Arantes e Haroldo Lima. Mal sabiam que aquela coincidência seria o fio tênue que separaria Haroldo da morte.
Quando partiram, a repressão entrou. Os que ficaram foram ceifados pela violência institucionalizada.
Por meses, agentes do DOI-CODI monitoraram a casa. Naquela madrugada, cerca de 40 militares cercaram o local com armas pesadas. O ataque começou às 7 horas da manhã. Foram vinte minutos de tiroteio intenso. Pedro Pomar, de 63 anos, e Ângelo Arroyo, de 48 anos, foram mortos a tiros no local. João Batista Franco Drummond conseguiu fugir do cerco momentaneamente, mas foi capturado nas proximidades e levado ao DOI-CODI, onde morreu sob tortura durante a madrugada seguinte.
Haroldo, porém, chegou em casa. Dormiu ao lado de Solange, sua companheira, sem saber que já era um homem marcado.
Para os algozes, matar Haroldo era uma “questão de honra”. O ultímo Presidente da Ação Popular e um dos idealizadores pela entrada da AP no Partido Comunista do Brasil, além disso, ele era responsável pela gráfica do partido, por isto, representava uma ameaça viva à ordem que tentavam impor. Começaram a forjar sua morte, trama sinistra que se desenrolava nos porões do regime.
Na manhã seguinte, Haroldo beijou Solange, despediu-se das filhas e saiu para providenciar uma nova carteira de motorista. Um documento de uma vida que já não poderia ser a sua. Ao virar a esquina, foi capturado. Solange e as meninas ficaram à espera, num tempo que se esticava como borracha.
No fim da tarde, a casa foi invadida. Homens armados entraram, fecharam tudo e aguardaram. Diziam que esperavam por Haroldo. Aquela cena, retratada tantas vezes no cinema, foi vivida por Solange e suas três filhas pequenas.
Na varanda, Julieta, a mais velha, ficou postada com um lencinho branco entre os dedos miúdos. Olhava para a rua, procurando o pai, querendo avisá-lo do perigo. A chuva caía lenta, marcando o tempo de espera como um relógio de água.
Mas Solange conhecia seu marido. Havia combinações, códigos estabelecidos. Se ele não voltasse até determinada hora, algo tinha acontecido. E o tempo passava, implacável, sem notícias. Foi então que Solange afirmou, com a firmeza que só a certeza dá: “Meu marido foi preso”.
Levada ao DOPS, Solange foi interrogada e intimidada por horas. As meninas ficaram em casa, sob a “guarda” dos invasores. Quando finalmente a liberaram, o destino novamente mostrou sua mão. Ao sair, Solange viu sobre uma mesa um documento que só ela reconheceria: uma velha carteira de estudante com a foto de um Haroldo jovem, quase menino.
“Olhe, ele estava aqui! Ele foi preso, esta carteira é dele, do meu marido!”, exclamou ela, com o coração a bater descompassado no peito.
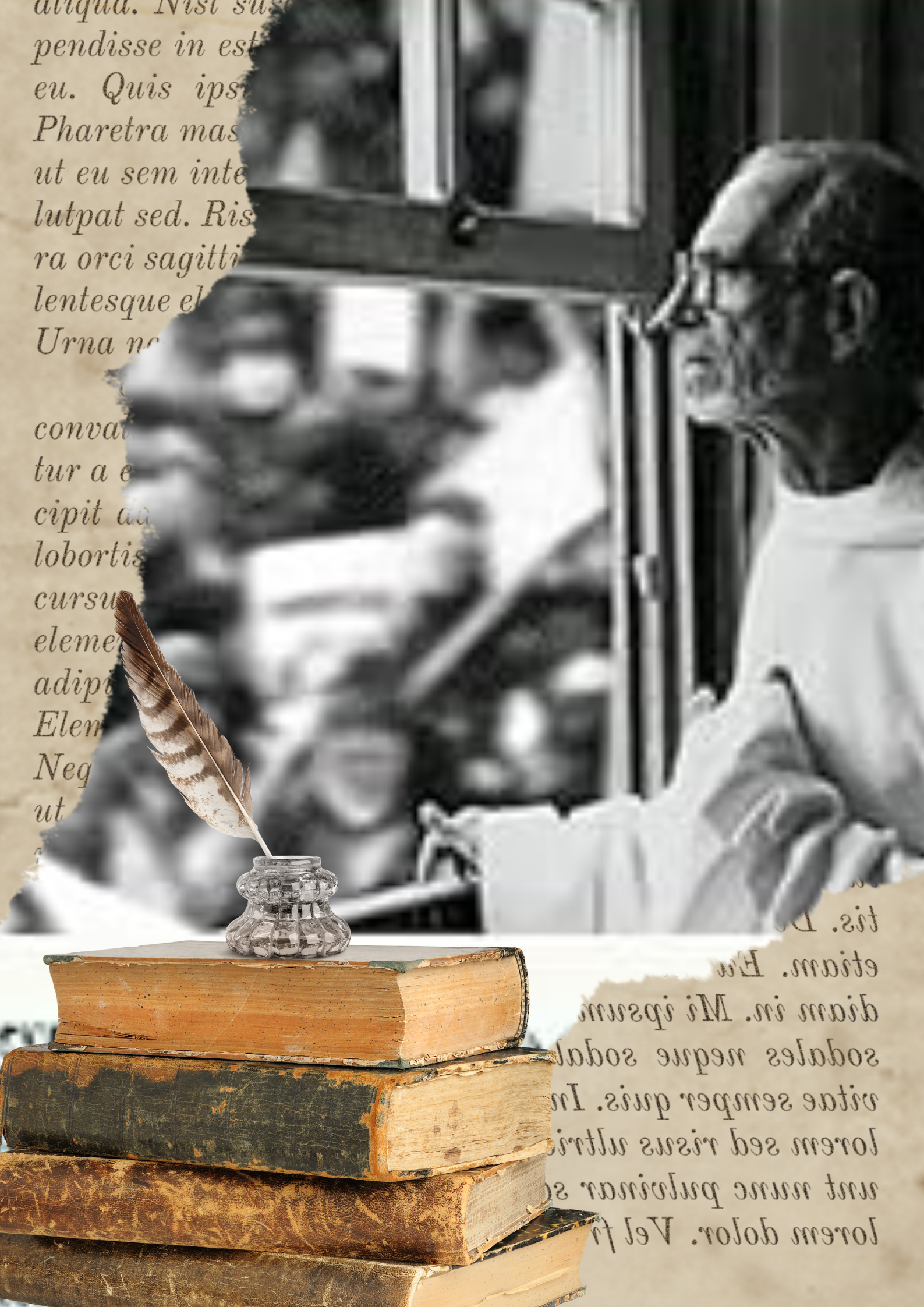
Foi nesse momento que Solange entrou verdadeiramente na luta. Não mais como esposa de um militante, mas como uma guerreira por direito próprio. Católica fervorosa, ela buscou ajuda de Dom Paulo Evaristo Arns e do Abade do Mosteiro de São Bento, Dom Timóteo Amoroso.
Luiz Eduardo Greenhalgh, jovem advogado de coragem inquebrantável, acompanhou-a de volta ao DOPS. Quando ela novamente denunciou ter visto a carteira, foi recapturada para interrogatório. Mas Solange, com a força que só os que não têm mais nada a perder possuem, declarou: “Todo mundo sabe que estou aqui dentro!”
Dom Timóteo escreveu uma carta para um grande jornal paulista. A denúncia ecoou de São Paulo até Salvador. A campanha ganhou as ruas: “Haroldo está preso! Haroldo está preso!”
O pequeno monge, frágil na aparência mas gigante na coragem, partiu para São Paulo. Quando finalmente admitiram que Haroldo estava sob custódia, Dom Timóteo exigiu visitá-lo. Para isso, submeteu-se a humilhações: revistas íntimas, desnudamento, procedimentos vergonhosos que visavam quebrar seu espírito. Mas nada o deteve.
Encontrou Haroldo destroçado. Documentos da repressão, revelados anos depois, mostraram que ele havia sido preso em São Paulo e levado de avião para o DOPS do Rio de Janeiro. Lá, passou 17 dias sendo torturado incessantemente, beirando a morte.
Mas o grito de Solange chegou aos porões da ditadura. Ela gritava em São Paulo e todo o Brasil ouvia. Solange, militante da Ação Católica, uma mulher de fé, não era apenas a esposa de um militante político. Era uma força da natureza defendendo não apenas seu marido, mas a própria dignidade humana.
Num detalhe que revela o absurdo da clandestinidade, as filhas pequenas não entendiam por que todos procuravam por “Haroldo Lima”. Elas diziam, com a inocência infantil: “As pessoas só procuram esse tal de Haroldo Lima e ninguém procura meu pai.” Para elas, o pai chamava-se Carlos, nome de batismo da clandestinidade.
Dom Timóteo Amoroso, homem de uma coragem serena, enfrentou os porões da ditadura para quebrar a incomunicabilidade de Haroldo Lima. Frágil na aparência, mas poderoso na determinação, ele representou a força da fé contra a brutalidade do regime.

Hoje, lembrar dessa história é um ato de resistência contra o esquecimento. É um lembrete de que a liberdade conquistada foi regada com o sangue dos que ousaram sonhar com um país mais justo.
Esta história, tão parecida com o filme “Ainda Estou Aqui”, não é ficção. É a nossa história, a história de um Brasil que resistiu, que sobreviveu para contar. É a história de Haroldo que, graças ao amor de Solange e à coragem de Dom Timóteo, pôde dizer: “Ainda estou aqui”.
Padre Carlos






